Aproveitei o feriado prolongado para tirar o atraso e ver em DVD alguns novos filmes que havia perdido no cinema e novos lançamentos obscuros. Confira abaixo, por sua conta e risco, minha opinião sobre eles... CRASH – NO LIMITE
CRASH – NO LIMITEA Academia de cinema estadunidense acertou ao dar o Oscar de melhor filme de 2005 para “Crash”. Apesar de tratar de tema parecido – a intolerância –, o filme de Paul Haggis é ainda mais atual e pertinente do que "Brokeback Mountain”. O racismo é algo inaceitável, mas faz parte da nossa vida, gostemos ou não. E essa é a proposta do filme, colocar o dedo naquela ferida que ninguém gosta de ver.
O roteiro é brilhante e coloca vários personagens em tramas paralelas que, em algum ponto da história, acabam se cruzando. O racismo é tratado de forma realista, sem panfletagem ou moralismo, e não se limita ao ódio entre brancos e negros, abrangendo todo o tipo de preconceito racial, inclusive contra árabes, hispânicos e dos próprios negros contra outras etnias.
A boa notícia é que todos os personagens se comportam de maneira suficientemente humana para não existir “mocinhos” e “bandidos” no filme. Mesmo aqueles que, a princípio, parecem ser os melhores acabam cometendo atos deploráveis, da mesma forma que os pintados como pessoas desprezíveis tomam atitudes louváveis inesperadamente.
“Crash” reserva alguns momentos muito fortes e até chocantes, não por apelarem para violência gratuita ou clichês, mas justamente por serem encenados de forma tão natural que os deixam ainda mais próximos da realidade. O elenco impecável também ajuda, diga-se de passagem.
Ou seja, um filme que se vale a pena assistir, ainda mais quando é produto de uma cultura onde o racismo é algo explícito e declarado, embora isso faça a gente questionar: existe racismo “bom”? Será que o preconceito racial que existe no Brasil, velado e implícito, não é ainda pior do que o que existe nos EUA? Esse é só um exemplo do tipo de reflexão e polêmica que “Crash” certamente vai provocar nos espectadores. E isso, convenhamos, não é pouco.
Cotação: * * * * PONTO FINAL
PONTO FINALEsse filme do Woody Allen é uma decepção total. Fraco, bobo, arrastado e ilógico. E, se não bastasse isso, é um drama sem qualquer pitada de comédia que não passa de (mais uma!) reciclagem do conto “Crime e Castigo”, de Dostoievski, que o protagonista folheia no início e o próprio Allen já havia aproveitado antes, com mais sucesso, em “Crime e Pecados”.
Mas o elenco, encabeçado pelo andrógino Jonathan Rhys-Meyers (quase um sósia do Joaquim Phoenix), é particularmente fraco e os diálogos são banais e frouxos. A trama consiste na ascensão social de um tenista fracassado que se casa com a filha de uma família rica de Londres (mas poderia ser em qualquer lugar). Só que ele se engraça justamente com a noiva do cunhado (Scarlett Johansson, menos apática que de costume) e os dois acabam virando amantes.
A partir daí o filme fica extremamente previsível e, quando tudo termina absurdamente em tragédia, ameaça virar mais uma história policial – o que, felizmente, não acontece, pois a metragem já beirava às duas horas e não havia mais tempo para nada. Allen tenta disfarçar a sua total falta de inspiração acrescentando um recurso narrativo pseudo-esperto que sugere que está, na verdade, fazendo um estudo sobre o quanto a sorte ou o azar podem influenciar a vida das pessoas. O que seria interessante, caso o diretor não perdesse todo o tempo de projeção mostrando uma história absolutamente banal só para enfiar duas cenas que dão razão à tal pretensão sugerida, sem maior impacto ou conseqüência (mas parece que o truque funcionou, pois vários profissionais da opinião andaram louvando o filme!).
Poderia, ao menos, ter inserido comentários mais agudos sobre a realidade e a política social que move as altas castas gerando assim algum tipo de conflito ou reflexão, mas nem isso o filme tem – tanto é que os personagens secundários não têm nada a fazer ou dizer, virando mera decoração, e o protagonista não tem qualquer profundidade ou carisma, parecendo até meio catatônico.
Sinceramente, o filme é muito fraco e, a exemplo do também decepcionante “Melinda e Melinda”, dá claros sinais que Allen está precisando de umas boas férias ao invés de ficar insistindo em fazer um filme por ano. Às vezes, um bom descanso faz bem para que novas idéias surjam na cabeça de um artista...
Cotação: * * PLANO DE VÔO
PLANO DE VÔO
“Plano de Vôo” é mais um daqueles filmes que foram criados para serem uma coisa, mas, no meio do processo, acabaram virando outra. Concebido para ser uma espécie de “Duro de Matar” num avião, no qual um policial durão teria que enfrentar terríveis terroristas para salvar a vida do seu filho em pleno vôo, “Plano de Vôo” acabou virando um veículo para Jodie Foster exibir seus talentos, no que os produtores certamente consideraram uma espertíssima jogada: “Que tal ao invés do machão dando porrada, tivermos uma mulher indefesa e perturbada psicologicamente lutando para reaver a filha que desapareceu no avião”?
Pois bem. Sumiram então os terroristas e o filme se esforça para ser o que não é. Para isso, usa recursos que buscam “enganar” o espectador (sempre uma má idéia, segundo o mestre Hitchcock) na tentativa de se vender como um suspense psicológico, no qual uma mãe (Foster), que acaba de perder o marido num trágico acidente (seria suicídio?), tenta recomeçar a vida voltando para os Estados Unidos junto com sua filha. No avião (na verdade um super-avião moderníssimo que ela ajudou a projetar) vai o caixão com o corpo do marido. Só que, ao acordar de um cochilo, percebe que sua filha sumiu. E começa a corrida dela para tentar convencer a todos que a menina foi seqüestrada.
A partir daí o diretor usa uma série de recursos dramáticos para tentar nos convencer que a protagonista pode sim estar sofrendo de ilusões paranóicas, já que ninguém havia visto sua filha entrar no avião ou mesmo ao lado dela (!). Depois, no auge da sua crise de histeria, é informada que a filha havia mesmo morrido junto com o pai - e acredita (!!). Será mesmo que foi tudo um sonho e ela entrou no avião sozinha, imaginando ter a filha morta ao seu lado?
Infelizmente, como todo filme de suspense estadunidense, esse questionamento dura pouco e logo somos informados que tudo não passava de um plano criminoso perfeito, cujos detalhes não vou revelar para não estragar as “surpresas”. Basta dizer que para dar certo, precisava contar com imensos “saltos de lógica” por parte dos vilões, os quais previram, por exemplo, que realmente NINGUÉM ia ver a mãe com a filha no avião (sem esse detalhe o tal plano iria por água abaixo), entre outros absurdos dignos de gargalhadas. Ok, justiça seja feita: o filme é bem feito e usa vários efeitos digitais para “incrementar” o super-avião e até consegue manter algum grau de suspense enquanto a trama não é revelada, contando para isso com o bom desempenho da competente Jodie Foster.
Mas é muito pouco para salvar um projeto que já nasceu errado e, depois, só piorou. Enfim, uma bobagem comercial que tenta, sem sucesso, se vender como algo diferente.
Cotação: * *
 POR AMOR OU POR DINHEIRO?
POR AMOR OU POR DINHEIRO?
Filme francês francamente bizarro, daqueles que não deixam claro ao que vieram. Uma mistura de comédia de humor negro com sátira social, vale pela presença da sempre bela e voluptuosa Monica Belucci, que aparece semi-nua com freqüência.
Conta a história, sempre de uma maneira meio surreal, de um sujeito que diz a um prostituta (Belucci) ter ganhado na loteria e a convida para morar com ele, com pagamentos mensais. Obviamente, ela aceita e, a partir daí, o filme vai ficando cada vez mais esquisito, com um clima de comédia de absurdos, onde os atores desempenham seus papéis na mais absoluta seriedade enquanto as situações bizarras se acumulam.
E o riso surge justamente desse contraste (inclusive com o uso de uma trilha sonora exagerada que busca acentuar isso), mas não o bastante para tornar o filme memorável ou mesmo recomendável. Gerard Depardieu tem um papel pequeno, mas sempre é uma presença interessante. Além disso, tem uma fotografia bonita e o diretor Bertrand Blier busca sempre enquadramentos inovadores e uma edição fluída.
Verdade seja dita, embora tenha alguns momentos bem divertidos (como a discussão com a vizinha incomodada pelo barulho dos gemidos da prostituta, a intrusão dos colegas de escritório do protagonista e a festa final), parece que o negócio dos realizadores era mesmo deixar Mônica Belucci peladona o maior número de vezes possível no set de filmagem! Pelo menos disso não podemos reclamar.
Cotação: * * *
 A MARCHA DOS PINGUINS
A MARCHA DOS PINGUINSO filme é bonito, muito bem fotografado e conta um fato interessante, que é justamente a tal marcha do título, empregada pelos pingüins Imperadores para se acasalarem, enfrentando de forma emocionante todos os tipos de dificuldades, como frio terrível, tempestades, fome e o ataque de predadores.
Mas, por mais que tente disfarçar, não deixa de ser um documentário sobre a vida natural e, nesse quesito, deixa a desejar. Faltam muitas informações a respeito do comportamento dos animais, suas motivações e sobre as técnicas usadas para garantir a sobrevivência dos filhotes. O diretor optou por tentar transformar o documentário numa espécie de drama épico ao dar vozes aos pingüins, mas isso soa quase sempre forçado, piegas e, infelizmente, bem pouco informativo.
Melhor seria se tivesse utilizado uma narração mais neutra ou letreiros explicativos. Do jeito que ficou, inclusive abusando de canções de ninar bem fraquinhas (embora a trilha incidental, da mesma autora, seja muito boa), acaba resultando em algo mais próximo de um filme infantil, onde os bichinhos “falam” como se fossem humanos sobre sua condição e necessidades. Por isso, pode funcionar melhor como um “filme família” (e é sempre bom educar os mais novos sobre a importância de respeitar a natureza), mas como cinema documental não chega a cumprir suas promessas.
Cotação: * * *
 AGORA, SEM DESCULPA
AGORA, SEM DESCULPA Faltou ao diretor e roteirista tato para criar situações que humanizassem os personagens principais, que no final das contas ficam reduzidos a meras caricaturas sem profundidade e, por isso, se tornam desinteressantes à medida que a trama avança. O caso mais grave é o do capitão fascista, cuja loucura nunca é justificada, deixando o ator Sergi López livre para super-representar. Com isso, as cenas de torturas e de violência extrema proporcionadas por ele chocam só por serem explicitamente grotescas e repulsivas – o ponto mais baixo do filme dá-se quando ele costura a própria boca sem anestesia, coisa que nem o próprio Rambo fez sem sentir alguma dor! Sem dizer que uma guerrilheira jamais o deixaria escapar vivo de uma situação daquelas.
Faltou ao diretor e roteirista tato para criar situações que humanizassem os personagens principais, que no final das contas ficam reduzidos a meras caricaturas sem profundidade e, por isso, se tornam desinteressantes à medida que a trama avança. O caso mais grave é o do capitão fascista, cuja loucura nunca é justificada, deixando o ator Sergi López livre para super-representar. Com isso, as cenas de torturas e de violência extrema proporcionadas por ele chocam só por serem explicitamente grotescas e repulsivas – o ponto mais baixo do filme dá-se quando ele costura a própria boca sem anestesia, coisa que nem o próprio Rambo fez sem sentir alguma dor! Sem dizer que uma guerrilheira jamais o deixaria escapar vivo de uma situação daquelas. Tenho visto alguns profissionais da opinião entoando loas ao filme, chamando-o de obra-prima e outros exageros. Novamente com medo de serem acusados de “não terem entendido a proposta do diretor”, estão julgando a obra pela sua pretensão e não pelo resultado final.
Tenho visto alguns profissionais da opinião entoando loas ao filme, chamando-o de obra-prima e outros exageros. Novamente com medo de serem acusados de “não terem entendido a proposta do diretor”, estão julgando a obra pela sua pretensão e não pelo resultado final.









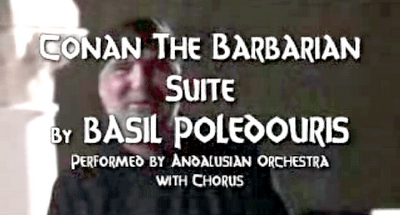


 Morreu ontem, dia 08 de novembro, aos 61 anos depois de perder a luta contra o câncer o compositor de músicas para o cinema Basil Poledouris.
Morreu ontem, dia 08 de novembro, aos 61 anos depois de perder a luta contra o câncer o compositor de músicas para o cinema Basil Poledouris. Reproduzo abaixo a despedida final escrita por Douglas Fake, da Intrada Records, selo especializado em trihas de cinema:
Reproduzo abaixo a despedida final escrita por Douglas Fake, da Intrada Records, selo especializado em trihas de cinema:










 “O Libertino” é ainda tecnicamente brilhante e conta com uma fotografia primorosa (que às vezes parece mesmo uma pintura), toda granulada e esmaecida graças à iluminação das cenas feita sempre com luz natural que dão ao filme um ar quase de sonho (ou pesadelo). A música do minimalista Michael Nyman (de “O Piano” e dos filmes de Peter Greenway) também é perfeita e ajuda a construir o clima hipnótico que conduz toda a projeção.
“O Libertino” é ainda tecnicamente brilhante e conta com uma fotografia primorosa (que às vezes parece mesmo uma pintura), toda granulada e esmaecida graças à iluminação das cenas feita sempre com luz natural que dão ao filme um ar quase de sonho (ou pesadelo). A música do minimalista Michael Nyman (de “O Piano” e dos filmes de Peter Greenway) também é perfeita e ajuda a construir o clima hipnótico que conduz toda a projeção.
 Já nesse típico subproduto da “era MTV”, onde mais (dinheiro, recursos, efeitos) geralmente quer dizer menos (drama, interesse, verdade), o que importa mesmo é COMO as pessoas vão morrer nas (ou escapar das) labaredas, inundações e destruições espetaculares, geradas por toneladas de efeitos visuais moderníssimos, porém geralmente vazios e redundantes, embalados por uma trilha musical “genérica” e barulhenta escrita por mais um desses compositores picaretas que abundam em Hollywood ultimamente (e pensar que a música do original era do mestre John Williams, ainda em início de carreira...).
Já nesse típico subproduto da “era MTV”, onde mais (dinheiro, recursos, efeitos) geralmente quer dizer menos (drama, interesse, verdade), o que importa mesmo é COMO as pessoas vão morrer nas (ou escapar das) labaredas, inundações e destruições espetaculares, geradas por toneladas de efeitos visuais moderníssimos, porém geralmente vazios e redundantes, embalados por uma trilha musical “genérica” e barulhenta escrita por mais um desses compositores picaretas que abundam em Hollywood ultimamente (e pensar que a música do original era do mestre John Williams, ainda em início de carreira...).









